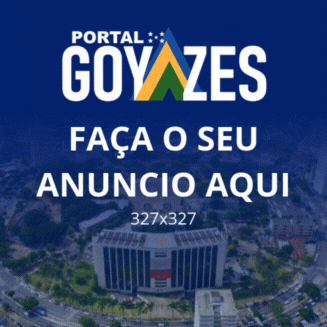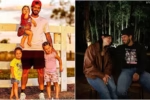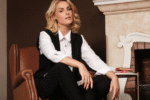Na tarde de 27 de agosto de 2025, o Congresso Nacional consolidou o que já vinha sendo chamado nas últimas semanas de “PL da Adultização”: o Projeto de Lei nº 2.628/2022 foi aprovado em votação simbólica e segue agora para sanção presidencial. A votação no Senado encerra a tramitação legislativa imediata da proposta que reconfigura regras de proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital — e abre, simultaneamente, um capítulo de debates sobre limites, riscos de excesso regulatório e o que de fato se pretende tutelar.
O projeto nasce de uma combinação rara de pressão midiática, mobilização social e reclamos de atores institucionais. Depois de diversas propostas apresentadas na esteira da repercussão do vídeo denominado “Adultização”, do influenciador conhecido como Felca, a proposta final aprovada é fruto de um substitutivo que recebeu ajustes ao longo da tramitação e ganhou força política especialmente nas últimas semanas. A justificativa pública é direta: regular responsabilidades de plataformas digitais, impor mecanismos de controle parental e criar instrumentos para a pronta remoção de conteúdos que exponham, sexualizem ou explorem menores.
No terreno das medidas concretas, o texto aprovado contém dispositivos de alcance prático e institucional. Entre os pontos mais relevantes estão a obrigatoriedade de verificação de idade e ferramentas de controle parental; canais de denúncia e mecanismos de remoção de conteúdos que configurem exploração ou sexualização de menores; vedação ao direcionamento publicitário específico ao público infantil; vinculação de contas de menores a responsáveis legais; e a previsão da criação de uma autoridade digital autônoma incumbida da fiscalização e aplicação de penalidades. O pacote regulatório também inclui previsão de sanções administrativas que vão desde advertências e suspensões até multas de grande monta, previstas na tramitação por valores que podem alcançar cifras expressivas.
Uma alteração que chamou atenção técnica e política foi a proibição das chamadas “loot boxes” (caixas de recompensa) em jogos digitais acessíveis ao público infantil — dispositivo que passou por oscilações no texto durante a tramitação, mas acabou sendo reintroduzido pelo Senado como forma de coibir mecanismos de estímulo a consumo ou comportamento viciante entre crianças. Para plataformas e desenvolvedores de jogos, a medida representa receio de repercussão econômica e de necessidade de adaptação rápida de sistemas e políticas de monetização.
O caminho até a aprovação, porém, não foi só de consenso. A rapidez com que a matéria foi pautada e votada — inclusive com a aprovação do regime de urgência e votação simbólica tanto na Câmara quanto no Senado — suscitou críticas sobre eventuais atalhos processuais e falta de debate detalhado em comissões técnicas. O presidente da Câmara, Hugo Motta, defendeu a condução como necessária para responder a uma emergência pública; opositores protocolaram questionamentos formais sobre a legitimidade de procedimentos e pediram explicações à Mesa. Em paralelo, pedidos de esclarecimento e questionamentos jurídicos deram ao episódio caráter conflituoso entre a necessidade de respostas céleres e o princípio do devido processo legislativo.
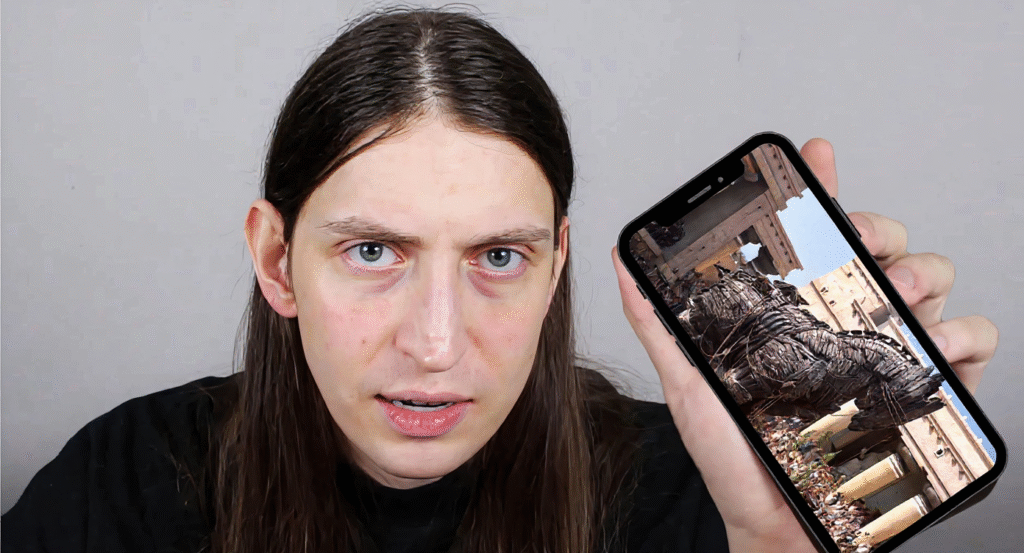
Politicamente, o texto revela a tensão clássica entre proteção e liberdade. De um lado, atores do Judiciário e setores sensíveis à proteção infantil celebraram avanços — o ministro Gilmar Mendes elogiou a condução da pauta como “firme e sensata” por parte da presidência da Câmara, sinalizando respaldo institucional à ideia de que o ambiente digital não pode ser refúgio para práticas lesivas a menores. Do outro, parlamentares como o senador Carlos Portinho classificaram trechos do projeto como um possível “cavalo de Troia” que facilitaria formas de controle ou censura sobre redes e plataformas, sobretudo se a autoridade a ser criada tiver poderes amplos de sanção e intervenção.
Esse embate traduz, em suma, o dilema de toda legislação tecnológica: quem define risco, qual a proporção da intervenção estatal e como evitar consequências não intencionais para a liberdade de expressão e para iniciativas privadas legítimas.
Há, ainda, desafios práticos e jurídicos que o texto aprovado dificilmente resolve sozinho. A aplicação uniforme de verificações etárias em escala nacional, por exemplo, colide com limites técnicos (fraudes de idade, dificuldade de autenticação universal), com discussões sobre privacidade de dados e com o custo de conformidade para plataformas menores. A criação de uma autoridade autônoma pode agilizar respostas, mas também concentra poder regulatório em um órgão que precisará de critérios transparentes, de mecanismos de recurso e de forte-capacitação técnica para evitar decisões erráticas. A previsão de multas elevadas funcionará como instrumento de pressão — e, em alguns casos, poderá gerar contenciosos judiciais que atrasem a eficácia das medidas.
Do ponto de vista social, o movimento que levou o PL ao centro do debate – o chamado “efeito Felca” — expõe algo essencial: a velocidade com que conteúdos que envolvem crianças e sinais de exploração se propagam nas redes e o vácuo regulatório que muitos percebem existir até então. A reação legislativa foi, portanto, formula e rápida; resta saber se será também criteriosa e eficaz. Para pais, educadores e organizações de defesa da infância, a expectativa é de instrumentos mais claros para denunciar e remover conteúdos prejudiciais; para plataformas e liberdades civis, há apreensão e necessidade de diálogo técnico-jurídico para mitigar danos colaterais.
O próximo passo institucional é mecânico, mas de grande simbolismo: a proposta segue à sanção presidencial — ato que transformará a tramitação em lei (com eventuais vetos e ajustes por parte do Executivo). A partir daí, abre-se o período de regulamentação, implementação e, muito provavelmente, disputas judiciais sobre pontos contestados. Em suma: a aprovação do PL 2.628/2022 marca um ponto de inflexão no debate sobre infância e internet no Brasil — encerra uma fase de urgência legislativa e inaugura uma etapa longa e técnica, na qual a eficácia da norma dependerá não apenas do texto, mas de como ele será aplicado, fiscalizado e, quando necessário, moderado pela via administrativa e judicial.
Se há um ensinamento imediato desta semana é que, em questões que mexem com crianças — assunto que toca profundamente a opinião pública — a pressa política encontra respaldo popular, mas também impõe o dever de cuidar para que a pressa não produza normas inalcançáveis, com efeitos adversos. A lei que se avizinha terá utilidade real se vier acompanhada de critérios técnicos, capacidade fiscalizatória e salvaguardas jurídicas que preservem direitos fundamentais sem deixar as crianças desprotegidas.